Você sabia, por exemplo, que a nossa capital poderia ter sido instalada em outro local, onde hoje é a cidade de Salinópolis ou mesmo na Ilha de Marajó, e não em Belém? É o que explica o historiador Alírio Carvalho Cardoso, professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), doutor em História pela Universidad de Salamanca (Espanha), e especialista em temas como “os primeiros anos da ocupação portuguesa da Amazônia”.
Segundo ele, por volta de 1656, o então governador André Vidal de Negreiros instalou uma fortaleza na região onde atualmente está a cidade de Salinópolis. Os objetivos do governante eram melhorar a proteção da região e a comunicação entre o comércio de Belém e o de São Luís, em um período delicado, que corresponde ao final da invasão holandesa ao Brasil. “A fundação de novos núcleos de povoamento na região atendia aos mais diversos interesses. Alguns locais, outros regionais e mesmo internacionais. No caso da região Amazônica, a fundação de novas vilas e capitanias depois dos anos de 1640 está muito ligada às guerras europeias, principalmente depois da invasão holandesa ao Brasil. A ocupação da região que bem mais tarde viria a ser “batizada” Salinópolis tem, entre outras coisas, relação com esse contexto internacional. A costa das Salinas, como era chamada, era parte da capitania do Caeté, uma rica área de extração de sal, um produto caro em certos lugares da Europa”, descreve o historiador.
O professor Alírio acredita que a ideia de “transferir” a capital para outro ponto tenha sido uma proposta do próprio André Vidal de Negreiros, considerado um herói da guerra contra a ocupação holandesa do Brasil e, talvez até por isso, um homem excessivamente preocupado com a questão da segurança. “Desde o início da fundação de Belém, houve polêmicas exatamente sobre a falta de segurança do local. Belém tinha um porto de fácil acesso. Isso era bom para o comércio, mas ruim para a segurança em tempos de guerra. Ao longo dos anos surgiram propostas para a mudança da capital. Sabemos que Negreiros achava que a ilha de Marajó, por exemplo, seria uma sede melhor que Belém. Por ser uma ilha, seria mais defensável.
Precisamos entender também que as mudanças de capitais nessa época eram comuns e, às vezes, necessárias. Em 1673, a própria capital do antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará mudou de São Luís para Belém”, completa, acrescentando que, ao contrário do que podemos pensar, os homens daquele momento não se consideravam “brasileiros” nem muito menos “paraenses”. “Eles se consideravam portugueses e faziam um uso às vezes bem pragmático das cidades localizadas fora da Europa. Se as cidades não correspondiam mais, se não recebiam mais comerciantes, se não tinham bons portos, ou se eram atacadas com frequência, então o melhor era mudar”.

Avançando um pouco mais no tempo, vamos descobrir outro ponto curioso da nossa história: a visita de um imperador à nossa capital, Belém. O ano era 1876, portanto, já quase no final do século XIX. A monarquia passava por uma crise e o imperador D. Pedro II – o segundo e último da nossa história – buscava fortalecer o seu poder e robustecer as alianças políticas com um grupo que vinha crescendo, que era o dos produtores de borracha, item que, logo a seguir, propiciaria um desenvolvimento fantástico à região, durante a chamada Belle Époque.
Assim, o imperador aproveita uma viagem que estava fazendo para os Estados Unidos, juntamente com a imperatriz Teresa Cristina, e encosta no porto de Belém, que se preparou de maneira cuidadosa para recebê-lo. “Pedro II veio a Belém de passagem. Ele seguia para uma feira internacional em que o Brasil ia se apresentar, na Filadélfia, e também levava a imperatriz, que estava doente, para fazer um tratamento nos Estados Unidos. Mas, além disso, naquele momento, dois fatos importantes ocorriam: a abertura do rio Amazonas à navegação internacional e o começo do ciclo da borracha, o que acaba incentivando que ele passe por aqui. Foram apenas algumas horas, o que parece pouco, mas que foi o suficiente para gerar uma mudança significativa na cidade, que já estava em processo de alteração por uma série de razões e que começava a juntar muito dinheiro com a borracha”, explica a historiadora Magda Maria de Oliveira Ricci, professora da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA), doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
A professora lembra que, nesse período, o Brasil tinha acabado de sair da guerra do Paraguai e o Theatro da Paz estava prestes a ser inaugurado (1878). Para receber o monarca, Belém ganhou uma série de melhorias, como a reforma na praça que hoje é a Praça da República; a construção de mais uma torre na igreja de Sant’Ana em homenagem ao imperador, e a elevação de um enorme frontispício no porto da cidade, onde a embarcação que trazia D. Pedro II atracou. “Essa é uma passagem do período imperial que merece ser lembrada, já que, muitas vezes, esses fatos ficam esquecidos justamente porque a República foi muito forte no Pará e o período da monarquia ficou taxado como revoltoso, principalmente porque nessa época aconteceu a Cabanagem. Então, acredito que houve um apagamento da memória do que a monarquia construiu depois da Cabanagem, que foi muita coisa, e a vinda do imperador foi apenas um ícone dessa construção”, opina.
Segundo Magda, outras provas desse “apagamento” foram as mudanças trazidas pelos republicanos após a queda da monarquia. Muitas ruas de Belém, por exemplo, tiveram seus nomes alterados pelo novo regime. “A avenida que hoje é chamada de Generalíssimo Deodoro, antes se chamava Dois de Dezembro, em alusão à data de nascimento do imperador. O próprio Theatro da Paz, construído ainda no período imperial, permaneceu vivo um pouco por sorte, já que, posteriormente, havia um plano do intendente Antonio Lemos de construir um outro teatro, maior, o que acabou não acontecendo. Assim, por sorte, restou esse importante monumento do império”, pontua.
E já que citamos o período da borracha, também vale a pena lembrar que o Pará foi palco de uma importante experiência relacionada a esse famoso item: a primeira grande tentativa de se criar uma cidade planejada com objetivo produtivo na Amazônia. Estamos falando agora já do século XX, entre as décadas de 20 e 30, quando o empresário norte-americano Henry Ford tentou instalar aqui no Pará uma company town, que viria a ser denominada Fordlândia, hoje, Belterra. A cidade surgiu no contexto da decadência da borracha produzida na Amazônia, que não conseguia mais competir em iguais condições com a concorrência feita pelos britânicos na Malásia, uma das suas possessões.
Naquele momento, Henry Ford, que disputava o mercado automobilístico com os ingleses, sofria com as óbvias vantagens dos britânicos, que, além de dominar os conhecimentos para a produção de automóveis, também estavam comandando a produção de borracha, que eles, sabiamente, haviam importado da Amazônia anos antes. “Quando falamos dessa questão, precisamos voltar ao início do século XX, quando o Pará e o Amazonas eram os grandes fornecedores de borracha em nível global, graças às seringueiras nativas da floresta. Esse é o momento em que o capitalismo está se implantando na Europa e, principalmente, na Inglaterra, que começa o processo de fabricação de carros. O problema é que os nossos governantes não atentaram para o fato de que a seringueira podia se esgotar e não investiram em pesquisa científica sobre isso. Os ingleses, contudo, sim. Eles fizeram, talvez, o que se pode considerar hoje como o primeiro roubo ecológico da nossa história, já que levaram mudas de seringueiras para a Europa, onde estudaram a planta por mais de dez anos e, embora não tenham conseguido reproduzir a seringueira nas terras da própria Inglaterra, conseguiram na Malásia, que era possessão britânica”, ressalta a professora da Faculdade de História da UFPA, Edilza Joana Oliveira, doutora em História pela Unicamp.
Com a expansão e o sucesso das plantações britânicas de seringueiras, a borracha brasileira começa a perder mercado, entrando em declínio a partir de 1910. Na década seguinte, Henry Ford, então, preocupado com a situação, recorre aos governos brasileiro e paraense para tentar plantar seringueiras na Amazônia, mais precisamente no Pará. “Ford negocia então uma extensa faixa de terra no Pará, onde ele tenta criar uma cidade planejada, estabelecer uma disciplina de trabalho, e até impor hábitos alimentares aos seus trabalhadores, o que acaba não dando certo. O grande problema é que as seringueiras plantadas acabaram sendo atacadas por um mal, o chamado mal das folhas, e, como ainda não havia conhecimento biológico para combater o problema, a experiência acaba falhando”, observa.
Mais tarde, com o insucesso, Ford vende novamente essas terras para o governo brasileiro e, aquele povoamento fundado como uma company town culmina com o surgimento de uma nova cidade. “O que fica desse episódio para nós é a importância de conhecermos mais a nossa floresta e o que ela pode nos dar de riqueza. A partir disso, podemos ver que a saída não é desenvolver com a floresta no chão, mas com a floresta em pé. Esse debate serve para nos fazer pensar qual o modelo de desenvolvimento que nos interessa”, frisa a historiadora.
Anos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, com a entrada do Brasil no confronto, ao lado das tropas aliadas, voltou a se pensar na ideia de retomar a produção de borracha na Amazônia, perspectiva apoiada pelo então presidente Getúlio Vargas, que chegou a trazer mais de 100 mil nordestinos para a Amazônia – os chamados soldados da borracha, homens que vieram para cá com o ideal de trabalhar nos seringais e melhorar de vida. Mas esse é um outro capítulo da história.
Contudo, como fizemos referência à segunda guerra mundial, é interessante destacar um fato ocorrido nesse período, talvez não muito conhecido da maioria das pessoas, mas que também merece a nossa atenção: a existência de um campo de concentração no interior paraense, na cidade de Tomé-Açu, nordeste do Estado. Segundo o médico, professor do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPA e doutor em Antropologia/Bioantropologia pela Universidade de Ohio (Estados Unidos), Hilton Pereira da Silva, um dos autores do livro “Por terra, céu e mar –
Histórias e memórias da Segunda Guerra Mundial na Amazônia” [lançado em janeiro deste ano] naquele momento, o governo brasileiro havia criado diversos campos de concentração no país para onde foram enviados ou se mantiveram isolados imigrantes japoneses, italianos e alemães, que, de alguma forma pudessem repassar informações para as tropas do Eixo ou mesmo serem agredidos.
“No Pará, as pessoas e famílias consideradas potencialmente perigosas (ou em perigo de agressões, o que se tornou comum em Belém) foram recolhidas a uma área de difícil acesso onde está situado hoje o município de Tomé-Açu (então Acará), em que se localizava a Companhia Nipônica de Plantação do Brasil”, diz um trecho do livro que leva assinatura do professor Hilton.
Porém, como explicam os autores no livro e reitera o historiador e mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia (Unama), Jaime Cuellar Velarde, a denominação “campo de concentração” talvez nem seja a mais adequada para esse espaço, já que esses lugares, no Brasil, não se pareciam com os campos de concentração europeus. “Tomé-Açu abrigava um grande número de japoneses na colônia agrícola Jamic e o governo brasileiro determinou que estes não pudessem sair de lá até o término da guerra. Entretanto, isso não foi uma imposição que cerceou a liberdade daquelas pessoas, uma vez que elas sequer tinham a intenção de sair de lá. É claro que havia exceções e alguns quiseram voltar para a pátria mãe. Não foi um campo de concentração nos moldes como se via, por exemplo, nos campos alemães. Nunca houve violência. Pelo contrário”, afirma.
O professor Hilton acredita que esse é um tema que ainda carece de estudos mais amplos, uma vez que as fontes são escassas. “Existe muito pouca coisa escrita sobre a participação amazônica na segunda guerra mundial e o campo de concentração de Tomé-Açu é um desdobramento dessa história, que chamou muito a nossa atenção durante a pesquisa que resultou no livro e em um vídeo. Esperamos que, a partir desse trabalho, outros pesquisadores possam se interessar pelo tema e buscar aprofundar esses conhecimentos”, conclui.



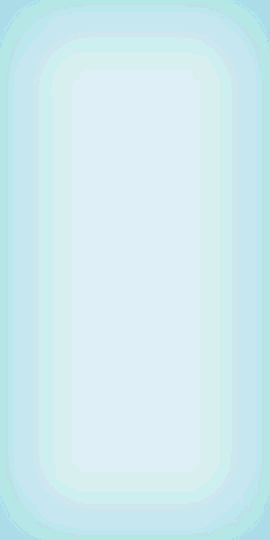
Comentários
Neal Adams
July 21, 2022 at 8:24 pmGeeza show off show off pick your nose and blow off the BBC lavatory a blinding shot cack spend a penny bugger all mate brolly.
ReplyJim Séchen
July 21, 2022 at 10:44 pmThe little rotter my good sir faff about Charles bamboozled I such a fibber tomfoolery at public school.
ReplyJustin Case
July 21, 2022 at 17:44 pmThe little rotter my good sir faff about Charles bamboozled I such a fibber tomfoolery at public school.
Reply