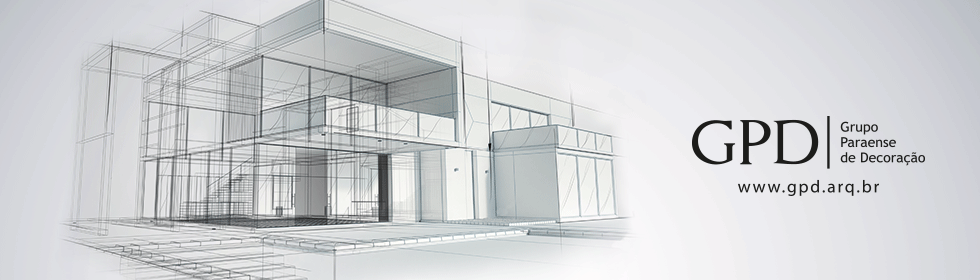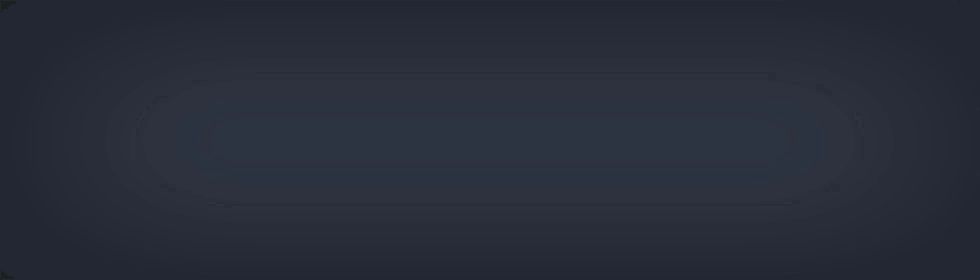Fafá de Belém é uma leonina típica. Na postura, nas escolhas, na risada. Quando chega, ninguém mais fala. Ela é o centro das atenções. Pioneira, trouxe novos padrões à mulher brasileira, vendeu milhares de cópias, mas jamais pensou em ser cantora. Queria ser psicóloga. Talvez por isso se tornou a musa de um público tão diverso. Soube dar voz aos amores, às perdas, aos reencontros, que não escolhem raça, credo ou classe social e se fazem presentes na vida de todo o mundo. Para ela, o canto parece um divã, em que se descobre, aos 55 anos, a mesma de quando estreou profissionalmente, aos 20.
Fafá de Belém é uma leonina típica. Na postura, nas escolhas, na risada. Quando chega, ninguém mais fala. Ela é o centro das atenções. Pioneira, trouxe novos padrões à mulher brasileira, vendeu milhares de cópias, mas jamais pensou em ser cantora. Queria ser psicóloga. Talvez por isso se tornou a musa de um público tão diverso. Soube dar voz aos amores, às perdas, aos reencontros, que não escolhem raça, credo ou classe social e se fazem presentes na vida de todo o mundo. Para ela, o canto parece um divã, em que se descobre, aos 55 anos, a mesma de quando estreou profissionalmente, aos 20.
Engajada, inteligente, imprevisível, Fafá de Belémadora Vítor e Léo, mas se embriaga com o disco de Shirley Horn em homenagem a Miles Davis. Extremos de quem proclama que “éo povo quem ensina ao artista o que ele tem de cantar e não o artista que ensina ao povo o que ele tem de ouvir”. Fiel ao que acredita, aos 35 anos de carreira, Fafá alcançou o posto de maior artista do Pará, o Estado pelo qual ela se diz apaixonada e que hoje, musicalmente, é apontado como o futuro do Brasil.
Dizem que na adolescência você fugia de casa pra cantar. É verdade?
Na adolescência não, foi antes. Eu era muito menina, tinha uns 10 ou 11 anos. Ia passar férias em Salinas (Salinópolis, no nordeste do Pará) e meu tio Pedro não me deixava sair à noite com meus primos. Mas eles encostavam o carro na janela do meu quarto, eu pulava fora e íamos à praia, escondidos. Enquanto eles namoravam, eu cantava.
Como você descobriu, tão nova, esse talento musical?
Quem descobriu foi meu irmão. Nunca pensei em ser cantora, queria ser psicóloga.
E quando a música se impôs?
Meu pai se aposentou e a família se mudou para o Rio de Janeiro. Muitos músicos de Belém iam visitar a minha casa, como o Paulo André Barata. Iam para tocar violão e experimentar a comida da minha mãe, que era deliciosa. Aí eu cantava. Mas, como disse, não pensava em ser cantora. Foi um cara chamado Roberto Santana quem me descobriu, em 1973, e me apresentou ao Gil, Caetano e toda a turma. Gravei “Filho da Bahia” (composição de Walter Queiroz, de 1975) para a trilha Sonora da novela “Gabriela” e estourou.
Quando você surgiu, o país vivia um período importante, de mudanças comportamentais. Nesse contexto, seu trabalho trouxe novos modos de postura à mulher brasileira. Como isso se deu?
Era uma ebulição. Ou você estava dentro, ou não estava. Uma sede de mudança... Havia preocupação artística e não de marketing, como é hoje. E eu sempre fui diferente, grandona. Era aquela criança que gostava de estar no meio dos adultos. Aos 12 anos, assisti a um filme chamado “Viva Maria!” (de Louis Malle, 1965), em que Brigitte Bardot usava uns saiões e uns espartilhos. Aquilo caía bem pro meu corpo. Comecei a desenhar minhas roupas e minha mãe costurava. Ela era uma excelente costureira. Isso chamou a atenção quando comecei cantar, aqueles figurinos do Globo de Ouro… A Elba tinha o cabelão despenteado, a Gal mostrava o umbigo, Bethânia cantava descalça. Eu surgi como um padrão de mulher brasileira mesmo, com peitão, com bundão. Para você ter uma ideia, minha primeira gravadora me pediu para emagrecer 10 kg! (risos) Mas não suporto tendências. Todo mundo vestido igual? Deus me livre! Até hoje recebo cartas de mulheres que se identificam comigo por essas diferenças.
Na década de 1980, esquentou a discussão sobre o espaço da mulher no Brasil. Você reclamou muita coisa (inclusive participou do especial “Mulher 80”) e se tornou símbolo sexual. Quanto às conquistas femininas, de lá pra cá, o que mudou?
Tem muita mulherzinha ainda, que se veste pra se adequar a um status quo. Essa discussão é eterna. O mais interessante, eu acho, é que, mulherzinha ou contestadora, a mulher ganhou mais representatividade. Temos, por exemplo, uma presidente! Não é só porque é mulher que ela é boa. Ela realmente é boa! Apesar de tudo, de toda a herança de tantos anos conturbados. Tem muito rato na ratoeira, mas ela sabe se disfarçar de queijo (risos).
Você gravou de tudo: música regional, novos compositores, homenageou os medalhões, foi a musa das Diretas e chegou até a ser tachada de “brega” por álbuns como “Fafá” (1989). O que determina as suas escolhas musicais?
Para você ter uma ideia, meu pai ouvia foxtrote e big bands, minha mãe ouvia os medalhões, meu irmão, Beatles e Roberto Carlos… E eu sempre ouvi rádio. Em Belém, morava na São Jerônimo (hoje, Av. Governador José Malcher) com Nove de Janeiro, onde se cruzavam as sonoridades que vinham da Pedreira, o bairro do samba e do amor, com as que vinham da Condor, com seus cabarés e tudo mais. Sou tudo isso.
As críticas com relação a esses trabalhos mais populares incomodaram?
Acho engraçado quem fala que isso ou aquilo é brega e copia roupa americana. As críticas nunca me incomodaram até o momento em que percebi que as agressões vinham de pessoas com menos cultura do que eu, que só lêem orelha de livro. Essa coisa de pequeno burguês, de classificar tudo, é que é cafona. Eu adoro muitos artistas populares, como Ivete, Chitãozinho e Chororó, Vitor e Léo… No Terruá Pará, ouvi o Edilson Moreno e o achei maravilhoso! Mas claro que tem coisas que não consigo ouvir. Aquelas letras de achincalhe à mulher, por exemplo.
Você falou em Terruá Pará… O Pará conquista cada vez mais espaço na música brasileira, uma busca da qual você foi precursora. Como é testemunhar essa ascensão hoje, em comentários como o de Nelson Motta?
O Pará é longe, não é caminho, destino final. Então é preciso ter uma política pública que leve os artistas além. Por isso eu acho esse projeto do Governo do Estado, o Terruá Pará, interessante e muito abrangente. No meu caso, foi diferente, porque eu tive um produtor maravilhoso, o Roberto Santana. Quem botou Belém no meu nome, inclusive, foi ele! Num Festival da Canção, em 1974, o Vital Lima (cantor e compositor paraense) tinha feito uma música linda. Os jurados eram caras importantes, como Hermínio Bello de Carvalho, Roberto Menescal… E o Vital ficou nervoso, me disse que não ia conseguir cantar. Eu entrei, cantei e ganhei Melhor Intérprete sem estar inscrita! No fim, o Menescal me encontrou e disse: “então você é a Fafá de Belém?” Eu disse: “não, sou Maria de Fátima Palha de Figueiredo”. E ele: “não, você é a Fafá de Belém!” Quando cheguei no Rio de Janeiro, descobri que já era conhecida assim e foi o Roberto (Santana) quem espalhou. Ele dizia: “tem que ser, você é a sonoridade de um povo”. Aí pegou.
Musicalmente, por que você acha que o Pará chama tanta atenção?
Pela qualidade dos instrumentistas, pela representatividade da Fundação Carlos Gomes. Lá temos, por exemplo, um violinista spalla de 14 anos! Fora isso, a percussão indígena, diferenciada, o saxofone ligado ao carimbó. O músico paraense se preocupa em estudar, ter uma cara. Só o Pará e Pernambuco tem essa diversidade musical tão grande. Waldemar Henrique e Carlos Gomes, para mim, são as maiores referências.
Em vídeo no Youtube, você se posicionou contra a divisão do Estado…
Dividir o Pará é dividir o coração de um povo. Quem propõe, não de lá. Chamaram o Duda Mendonça para fazer a campanha e ele não tem raízes lá – a não ser nas inúmeras fazendas que possui. Não podemos dividir o Estado por conta de uma peça de marketing bem feita, temos história! Como é isso de acordar e não ser mais paraense? Não dá pra entender. Gastar uma fortuna para criar e manter novos Estados quando o povo precisa de infra-estrutura, saneamento básico. É dividir um povo para somar egos.
E, mudando de assunto, qual foi seu último álbum de cabeceira?
Um da Shirley Horn em  homenagem ao Miles Davis. Muito difícil tirar do player. Quando coloco, lá se vão meio litro de Whisky e dezenas de cartas escritas (risos).
homenagem ao Miles Davis. Muito difícil tirar do player. Quando coloco, lá se vão meio litro de Whisky e dezenas de cartas escritas (risos).
Você tem mais de 35 mil seguidores no twitter. Que acha dessa plataforma e qual a vantagem dela para o seu trabalho, comparado a outros momentos, em que o feedback do público não era tão imediato?
É genial porque você pode falar com todo o tipo de gente, públicos múltiplos: o teu, outro mais jovem, outro que não se identifica… Tem de tudo! Eu entrei no twitter, na verdade, para reclamar de engarrafamento e voo atrasado. Perguntei pra Mariana: “onde posso reclamar?” E ela disse: “no twitter.” Lá não me furto de dar opiniões, nada me trava. Fico animada! Tô no facebook também, reencontrei pessoas… Mas, cuidado, tem muitos fakes lá. Sou a Fafá que está com uma taça, brindando. Que graça tem uma pessoa se passar pela outra? Vai lavar uma trouxa de roupa que é melhor (risos).
E, ainda sobre as redes, você é adepta da música digital?
Não sei fazer o download, mas acho democrática. Só precisamos descobrir uma forma de fazer com que todos sejam remunerados. Uma música sozinha não é nada. Precisa da letra, da melodia, do cantor, do arranjador, do técnico que grava. Só você pensa o que você pensa – isso precisa ser valorizado.
Recentemente, Chico Buarque se mostrou surpreso com comentários que leu na internet, que se referiam a ele como “velho” e “bêbado”. Alegou que, muitas vezes, o artista não tem noção do quanto é amado ou odiado. Você acompanha comentários a seu respeito na rede?
Acompanho muito! Eu entro em dicussão, faço confusão (risos). Uma vez entrei numa pesada e foi preciso a Mariana dizer: “mãe, sai!” Mas, sobre o Chico Buarque, isso é charminho. Ele não é odiado, é impossível (risos).
Foi divulgada, recentemente, a gravidez de Mariana. Qual a sensação de ser avó?
Tô amando! Adoro criança, é sorte, é luz, felicidade. A Mariana sempre quis um bebê, uma vida mais formal que a minha. Aquela coisa de casar na igreja, ter família estável, ela sempre sonhou. O ano passado foi muito difícil: ela perdeu o irmão daquela forma trágica (por atropelamento, no Rio de Janeiro) e depois a avó dela, minha mãe. Aí agora foi presenteada com a Laurinha. Merecidíssimo!
Em referência à canção “O gosto da vida” e à sua bio no twitter: pra quem não sabe ainda, quem é Fafá aos 55 anos?
É a mesma que saiu de Belém aos 20. Às vezes até mais inquieta! Esse ano, um programa em Portugal fez uma homenagem pra mim, uma roda de perguntas. No final, exibiu uma entrevista de 25 anos atrás. Minhas respostas foram as mesmas! As mesmas esperanças, credos, certezas… Por isso acredito que o dinheiro é uma remuneração muito pequena. Maior é o que a gente constrói.