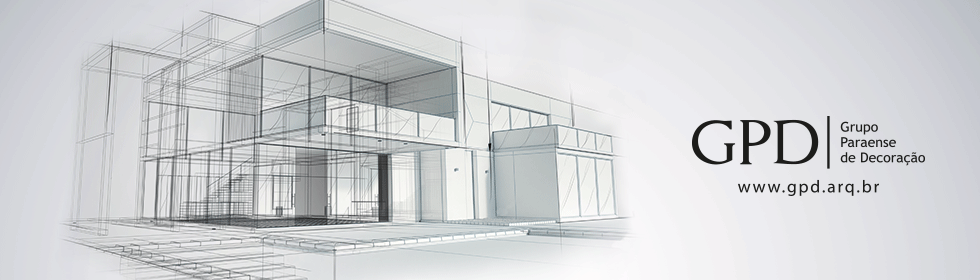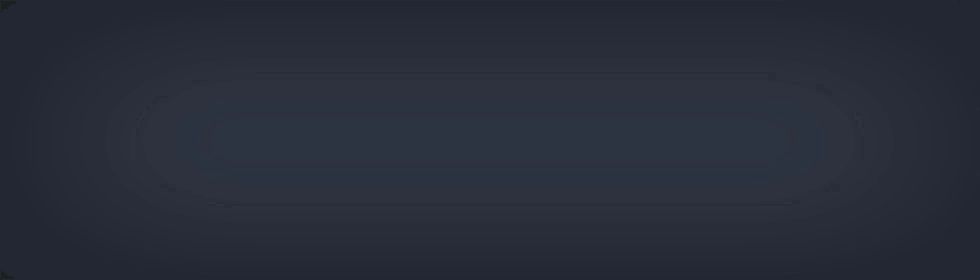Ao ouvir Jay Vaquer pela primeira vez, não se deixe confundir pela sonoridade pop ou pelos caminhos harmônicos inusitados. Nem mesmo pela longa extensão vocal, sempre evidenciada nos seus desenhos melódicos virtuosos. Se vir seu show ao vivo, não se concentre apenas na sua verve performática, tendendo aos espetáculos de ópera-rock. Nada disso é tudo, embora tudo seja essencial para compreendê-lo. Preste atenção também à sua maneira de escrever: há amores pouco ou nada piegas, como também há dores latentes - e um rir constante das comédias de costume sobre as quais ninguém gosta muito de falar.
Ora cronista, ora poeta, o trabalho do cantor e compositor por vezes se arrisca a lembrar a parábola dos sábios cegos - aqueles que, ao tatear partes diferentes de um elefante, tomam como concepção de todo o que é apenas componente. Da mesma maneira, uma única faixa não vai conseguir contar quem o artista é; assim como talvez nem mesmo um disco inteiro o faça. Plural, sagaz, sincero e extremamente talentoso, Jay desenvolveu uma maneira muito particular de se expressar por meio da música, o que rendeu cinco álbuns de estúdio e mais um CD/DVD ao vivo, distribuídos em 12 anos de carreira. Seu sexto disco de composições inéditas está em fase de produção e promete sustentar toda essa peculiaridade.
Embora tenha flertado com a grande mídia em alguns momentos (seus clipes fizeram muito sucesso nos tempos áureos da MTV), não dá para chamar Jay Vaquer de um artista massivo. O cantor sobrevive bem longe dos programas de TV e das rádios – em grande parte, por ser contrário à política de lobby por trás da indústria fonográfica – graças à internet e a um circuito independente cuja divulgação é pautada principalmente pelas redes sociais. Outra arma poderosa é o grande número de fãs apaixonados pelo seu trabalho e suas posturas sólidas. Se tudo isso ainda não configura motivo para conhecê-lo, talvez ajude saber do seu DNA privilegiado: Jay é filho da respeitada cantora paraense Jane Duboc e do guitarrista Jay Anthony Vaquer, parceiro de Raul Seixas em muitos de seus clássicos.
Jay Vaquer conversou com a Revista Leal Moreira, e se apresentou como os fãs o conhecem: honesto e muito convicto, sem perder a simpatia e o bom-humor. Conheça-o você também.
Você sustenta uma postura muito sincera ao lidar com seus fãs e também exercita a proximidade com eles. Qual o balanço que você faz disso? Em algum momento, a sinceridade e a proximidade atrapalham ou é sempre bom?
Algumas pessoas confundem um pouco essa postura, preferem aquele determinado artista que permanece distante... Quando ele é inacessível, fica mais interessante, mais “valioso”. Ao ficar próximo e virar “camarada”, fico meio banalizado (risos). Alguns até deixam de ir aos shows! É um fenômeno curioso que acontece mesmo... Apesar disso, não me imagino com outra postura. Eu sou apenas aquilo que acredito sempre precisar ser: honesto.
O Umbigobunker?!, seu disco mais recente, tem um clima mais melancólico e introspectivo que os anteriores. As músicas foram compostas no mesmo período?Elas refletem um momento seu ou foram compiladas para, juntas, contarem essa história?
Meus trabalhos estão carregados de melancolia. Lembrei agora do planeta do Lars Von Trier (risos). Mas é resultado da minha natureza. Nunca gravarei nada “solar”. Nunca vão ouvir um CD meu com algo numa linha “pois bem chegueeeei, descobridor dos sete mares...Tira o pé do chão, galera!” (risos). Eu componho bastante, tenho coisas mais antigas que ainda não foram lançadas. Aí costumo selecionar o repertório pensando em construir e estabelecer uma “jornada” com começo, meio e fim, para quem quiser embarcar na proposta. É como um livro, um filme...

Nesse sentido, em que tom virá o próximo CD? Dá pra adiantar alguma coisa?
Ácido, melancólico. Com melodias que considero interessantes, arranjos muito bem cuidados, esmerados... Adoro saborear cada etapa do processo de gravação com imenso prazer. Busco aprender, descobrir, arriscar, experimentar... E sempre expressando rigorosamente aquilo que julgo necessário ou interessante expressar agora.
Que sensação você tem ao ouvir o primeiro disco? O que mudou em você e na sua maneira de compor de lá pra cá?
É bem aquele clima de rever uma foto antiga: eventualmente, você estranha um corte de cabelo, uma calça misteriosa, algo que agora parece datado, talvez cafona... mas também pode reparar num olhar com um brilho lindo que se perdeu pelo caminho. Por exemplo, ali em “Nem tão são”, há um arranjo de metais em “Ilha Eu” feito pela Banda Mantiqueira. São músicos maravilhosos, mas claro que aquele som não combina comigo. Eu é que ainda não sabia disso. Gosto do Paulinho da Viola, do Cartola, mas não me meto em fazer sambas. Não sei fazer e nem tenho vontade, mas adoro escutar. Amo Stevie Wonder, mas meu som não é próximo daquele universo dele. Demorei a perceber coisas assim... Detecto ali no primeiro CD alguns momentos de insegurança e de uma arrogância que brotava dessa insegurança também... Havia um ingênuo “sei o que faço, me produzo sozinho e dane-se tudo” que era infantil. Mas identifico muitos acertos também. “A Miragem” e “Aponta de um iceberg” poderiam estar no próximo CD tranquilamente.
Quais as vantagens e desvantagens de ser um artista solo em um nicho dominado por bandas?
Eu realmente percebo as duas coisas. Vantagem é não ter que lidar com egos. Quando você está numa banda, tem que ceder em alguns pontos. Se um guitarrista cisma com um solo e você não gosta, como fazer? O cara também é da banda. Aí você tem que ceder, ou delegar ao produtor, que é um cara neutro... Não ia funcionar pra mim. Eu controlo muito essa questão dos arranjos. Agora, a grande desvantagem é que é muito solitário. Cada pancada que você leva, tem que sustentar sozinho. O engraçado é que, até hoje, tem gente que acha que “Jay Vaquer” é uma banda. Eu me divirto com esse tipo de coisa.
O que move você na hora de escrever? Como você observa esse seu processo de composição?
Tudo que me faz refletir, tudo que comove, me provoca, me instiga, me revolta, me incomoda, me altera... Não há exatamente um processo, mas um tempo que reservo para compor. Sempre que faço isso, desenvolvo algo. Pego meu violão e vou nessa (risos).
Sua mãe gravou um álbum com versões em inglês das suas músicas. Como foi essa experiência? Como é se ouvir em outra língua?
Foi uma honra. O trabalho é lindo. Arranjos belos, participações maravilhosas... Escutar Milton Nascimento cantando algo que você compôs é muito doido (risos). Toninho Horta (também participou do disco)... Quanta sorte! Sobre outra língua, acho que o inglês combina bem com o que faço.
Seus shows pelo Brasil não seguem a linha das superproduções, nem ganham grande destaque midiático. Como é a rotina de viajar o país com orçamento e estrutura limitados? Como você concilia a vida pessoal com essa rotina?
É complicado. Ainda encontro muita falta de respeito. Muitos shows acabam acontecendo em lugares precários, inadequados, e me deparo com pessoas desqualificadas apertando botões vitais para o resultado do som... Há muita ignorância, limitações... Mas é o que posso fazer hoje. Ou isso ou ficar em casa. Eu concilio tendo consciência de minha realidade, do país, das características do que realizo e das implicações acarretadas.
Como foram as passagens por Belém?
A primeira passagem foi razoável. Fui para Belém para fazer dois show numa proposta “piano e voz”, sendo que o primeiro show foi dividido com minha mãe. Nesse, eu ainda estava bem de saúde, mas passei uma madrugada dos infernos, com febre, calafrios. Fui parar num hospital. No segundo show, já estava bem doente, e o show de “piano e voz” não tinha nem piano, porque era um teclado; nem voz, porque era um “fiapo” (risos). Já a segunda oportunidade foi maravilhosa. Eu estava inteiro e fizemos um show maneiro. Quero, vou, voltar logo... E sempre.