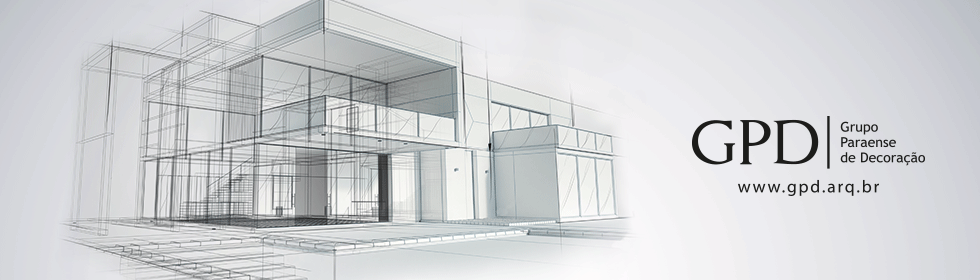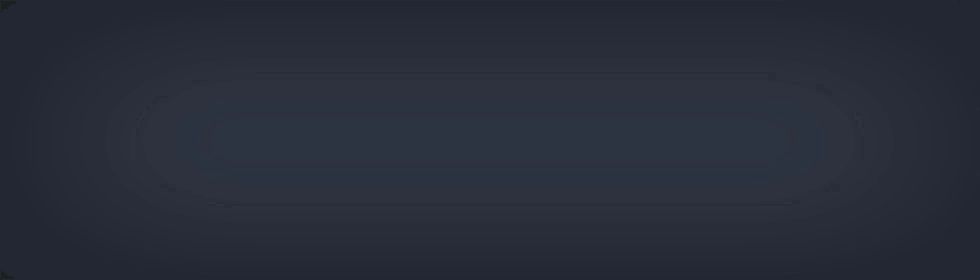O chão da cozinha é de cimento cru. Há crianças brincando e o cheiro de pão quentinho toma conta do ar. José Solano, em sua simplicidade, é só sorriso. Queimado de sol após dias de descanso à beira mar de Salvador, ele voltou para a casa no bairro do Condor, periferia de Belém, onde mora com a esposa, filhos e netos, e arrumou um tempo em sua agenda para nos conceder uma entrevista. “Só posso hoje porque amanhã viajo de novo”, conta. Em uma pequena sala, ele guarda alguns instrumentos e pastas repletas de recortes de jornal com notícias do seu trabalho. As manchetes dão conta da importância do artista: “O rei da guitarrada”, “O BB King da Amazônia”.
Destaque de premiados projetos musicais, Mestre Solano foi arrebatado pelo ritmo quente que vinha do Caribe ainda criança. Num misto de lambada, brega, cúmbia e calipso, nasce a guitarrada. De lá para cá, 17 discos lançados e o título de um dos maiores representantes da cultura paraense: ‘Americana’, seu grande sucesso, foi regravada por artistas como Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró e Arnaldo Antunes – prova de que um bom hit é capaz de atravessar gerações e cair no gosto dos mais distintos públicos.
Aos 72 anos, o destino de Solano ainda é a estrada. Na nova turnê do álbum “O Som da Amazônia”, patrocinado pelo projeto Natura Musical, o músico passou por Abaetetuba, sua cidade natal - onde, curiosamente, nunca havia feito show- São Paulo e Fortaleza. São seis décadas de palco, vários altos e baixos, muita história para contar e uma certeza inabalável de que tudo valeu a pena. “Nunca me arrependi de ter escolhido a música. E acho que esse dia de lamentação nunca vai chegar”, declara. Com vocês, Rei Solano.

Filho mais velho de uma família de nove Josés, ribeirinho do interior do Pará, aprendeste a tocar instrumentos sozinho e te tornaste um dos mais inventivos músicos do estado. Conta um pouco sobre o começo de tudo isso.
Papai era músico. Ele tocava banjo e violão no Jazz Abaeté, o melhor das redondezas, mas nunca quis me ensinar. A mamãe queria, mas ele dizia que música não dava futuro. Então eu fui aprendendo só de ver. Eu brincava de pião, de peteca, mas, quando eu ouvia o som do banjo, corria para perto dele e disfarçava... Aí, quando papai largava o banjo para ir trabalhar, eu pegava e tentava tirar as notas. Isso é um dom que Deus me deu. Todo instrumento que eu toco, bateria, teclado, banjo, violão, guitarra, tudo eu aprendi só. Quando completei 13 anos de idade, fiz a primeira apresentação do Jazz Tupi - hoje em dia, o nome que se dá é banda, mas, antes da banda, era conjunto e antes de conjunto era jazz. Lembro bem: foi em 12 de maio de 1954. A banda tinha sax, pistão, trombone, bateria, rabecão, banjo e pandeiro. Naquela época, eu dormia demais porque a gente tocava de seis da tarde às seis da manhã. Eram doze horas seguidas. Minha mão ficava inchada. E não tinha nada elétrico naquela época, era tudo acústico. O único intervalo era na hora da ladainha. Quando o pessoal rezava, a gente ia jantar, tomar uma água, ia ao banheiro... e voltava a tocar. As pontes na beira do rio ficavam cheias de gente. Era muito bonito. A gente tocava bolero, samba, marcha e o brega chacundú, que era o brega antigo. Depois da meia noite, tinha que tocar a valsa. O mambo entrava para animar.
Depois eu fui para o Jazz Margalho. Até que, novinho, eu fui para o jazzdo meu pai, que era o melhor da região porque só participava o pessoal experiente. O baterista deles saiu e o dono do jazz, seu Miguel Loureiro, viu meu potencial e me chamou. Eu nunca tinha tocado bateria, mas resolvi arriscar. Então era o papai no banjo e eu na bateria. Eu sempre fui um cara versátil e acabou que deu certo.
Na juventude, vieste para Belém para ser sargento. Mas mantiveste uma vida dupla: passavas a madrugada na festa e de manhã cedo, o figurino do show dava vez à farda de oficial. Como foi essa rotina insone?
Aos 22 anos, vim para Belém estudar para ser sargento no Corpo de Bombeiros. Passei no curso e fiquei morando no quartel. Nessa época, eu tocava a madrugada toda, até 4h30 da manhã, seis vezes por semana. Eu andava com uma sacola com a minha farda de bombeiro militar. No fim da festa, pegava o meu carro e ia para quartel. Tomava banho, trocava de roupa, descia para tomar café e começava o turno de trabalho quando tocava a alvorada. Muito exercício físico, apoio, pulo, eu ficava zonzo. Chegava em casa duas da tarde, almoçava, tomava banho e dormia até seis e meia da tarde porque oito horas começava a festa no São Jorge. Fiquei nessa rotina por 15 anos. Agora tem uma coisa: eu nunca bebi e nunca fumei, mas também nunca fui evangélico.

Nessa época, já ganhavas fama por causa da guitarrada. Como foi que o ritmo tomou forma e virou teu carro-chefe?
Quando moleque, eu ouvia muito rádio. Mas, no interior, só pegava o sinal de rádio de fora. As rádios do estado e do Brasil eram uma chiadeira só! Então, a gente escutava muito cúmbia, bolero, calipso, músicas que vinham da Colômbia, Honduras, República Dominicana, Caribe. Tudo isso virou lambada aqui, depois guitarrada. Foi assim que começamos esse estilo aqui no Pará. E digam o que quiserem: assim como o axé é da Bahia, a guitarrada é 100% paraense.
Tem uma história curiosa sobre como conseguiste a primeira guitarra...
Sim. Quando eu vim para a capital, eu quis realizar uma vontade: em Abaeté, vi a apresentação de um conjunto de Belém que tinha ido até lá fazer um show. Vi na mão do músico um instrumento lindo. Nunca tinha visto aquilo e nem sabia o que era. Perguntei e me disseram que era uma guitarra. Então eu fiquei com muita vontade de tocar guitarra. Já aqui Belém, eu fui tocar no Presídio São José, a convite do diretor, o Coronel José Anastácio, por conta da comemoração do dia de São José, padroeiro do presídio. Eu já tinha um jazz, o Top 5, e fui para lá. Ai apareceu o Denizard, um camarada lá de Abaeté [como a cidade de Abaetetuba é carinhosamente tratada pelos paraenses]. Ele foi preso em Abaeté e veio transferido para prisão, em Belém. Ele era muito bom com qualquer tipo de móvel. Era carpinteiro e marceneiro. Eu usava um violão velho. Ele me chamou e disse: eu faço uma guitarra para ti. Eu duvidei um pouco, mas ele me garantiu que faria. Então, comprei o material. E era difícil porque, para ter uma guitarra, naquela época, só se mandasse trazer de São Paulo... e levava meses, além de ser cara. Disse para ele como eu queria a guitarra... e não foi que um tempo depois eu voltei ao presídio e ele me entregou uma guitarra linda, do jeito que eu queria: de cedro, cor de vinho, com a máscara preta, três captadores. Todo mundo achava bonita. Toquei com ela por um bom tempo; uns dois, três anos, mas acabei vendendo nem lembro para quem. Como eu ia adivinhar que eu ia fazer sucesso, né? Me arrependo até hoje de ter vendido.
Foram anos tocando em bares e clubes de bairro até a sorte bater à porta e a Continental perceber o teu talento. Como foi que uma multinacional descobriu a guitarrada do Solano?
Gravei o primeiro disco em 1974, com o meu grupo Top 5 – um compacto, duas músicas de cada lado: um samba, um brega, um bolero e uma guitarrada, que, na época, era chamada de lambada. Gravamos num estúdio de Belém que era uma porcaria. Só um microfone para captar toda a banda. Era um barulho danado o disco. Aí, anos depois eu assinei o contrato com a Continental. Eu estava tocando aqui na Condor [bairro de Belém], numa madrugada, em um bar chamado São Jorge, que era uma zona! Vendia quase duzentas grades de cerveja por noite. Aí, chegam dois caras, que dava para ver que não eram daqui e sentam numa mesa perto do palco. Eram dois diretores da Continental, a maior gravadora do Brasil. Eles saiam procurando conjuntos que fossem bons para gravar disco. Eu já estava com outro grupo que eu formei, o “Solano e Seu Conjunto”. O garçom chegou e me deu o recado que os empresários queriam falar comigo. Na hora do intervalo, eu desci do palco e fui até eles. No outro dia de manhã, fui encontrá-los no hotel onde estavam hospedados e eles queriam que eu assinasse contrato de seis anos, mas eu insisti que queria menos tempo e fechamos em três anos. Naquela época, eles davam um bom dinheiro para gente e mais 10, 12% em cima da venda dos discos. Com três dias, o dinheiro já estava na minha conta. O primeiro disco não vendeu muito, mas o segundo foi um sucesso, por causa de ‘Americana’. Fez tanto sucesso que eles não davam nem conta de repor os discos na prateleira das lojas. Só no Ceará, foram 57 mil cópias. Em todo Brasil, diz que foram 136 mil cópias, mas quando eles falam 136, foram mais de 200 mil. Ninguém tem controle sobre essa saída das gravadoras.
‘Americana’ foi a música que te deu uma projeção enorme, até mesmo fora do Brasil. Recentemente, ela foi regravada por vários artistas. Qual o tempero dessa canção que agrada tanta gente, mesmo décadas depois de ter sido lançada?
Foi com ela, no segundo disco, que lançamos em 1985, que eu comecei a fazer showspor todo o Brasil. Com o primeiro, a gente ia para o Maranhão, lugares aqui por perto. Mas com ‘Americana’, a gente foi até para fora do país: Argentina, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Panamá... rodamos a América Latina inteira. Isso porque a guitarrada tem um suingue que não deixa ninguém parado, é impressionante. Nessa época, fiz show com o Dominguinhos, Roberta Miranda, Peninha, Ritchie. Passou um mês entre as mais tocadas nas rádios de Fortaleza. Teve dono de casa de show que ficou rico em cima disso. Fiz mais de 60 shows em uma boate no Ceará e o dono, que antes andava num fusca velho, comprou carrão. Isso me deixa triste porque a música é minha e de um amigo meu, o Frank Carlos, que já faleceu. Essa letra é minha com ele. Mas há não sei quantos anos que eu não recebo o direito autoral dessa música. Um bocado de gente já regravou e eu não recebi nada. Eu já fui atrás, mas é um problema danado! Já fui ao Rio de Janeiro porque, na época em que eu assinei esse contrato, era a editora Latina, da Continental. Mas quando a gravadora acabou, veio outra. Fui lá e disseram que a música não constava no meu nome, que a música não era minha. Fui a São Paulo e a parte onde eu tinha assinado estava rasurada. Disseram que a música não era minha e tinha outras pessoas recebendo o dinheiro. Já chorei de raiva disso porque levei os meus discos originais para mostrar que a música era minha. Não era para eu ter feito isso, era para eu ter levado a um advogado. Tinham umas sete, oito música minhas no nome de outras pessoas. O cara disse que tinha dinheiro de algumas músicas lá sem poder sair. Algumas só estavam no nome do Frank, que era analfabeto, e que deve ter sido enganado. Frank morreu pobre, sem receber nada. E os direitos artísticos, os direitos autorais?
Essa situação de não receber os direitos pelas músicas gerou um problema financeiro para ti, sobretudo na época na crise da indústria fonográfica, na década de 1990? O que pretendes fazer para tentar resolver essa questão do direito autoral?
Com a indústria em crise, os shows deram uma caída e ficou muito difícil gravar disco. Fiz alguns independentes. Mas nunca me faltou trabalho. Eu sempre tinha onde tocar, em casas de show. Onde eu tocava, o pessoal ia atrás para ver a gente nos clubes. Quanto à questão dos direitos autorais, agora a minha esperança é bater lá em Santarém, onde ainda mora uma irmã do Frank, para gente tentar resolver esse caso. Mas, mesmo com essas rasteiras, nunca me arrependi de ter seguido o caminho da música. Ela é um dom e sempre me deu muita alegria. Esse dia de lamentação eu acho que nunca vai chegar para mim.
Apesar de todas as pedras no caminho, hoje és reconhecido como o Rei da Guitarrada. Já li crítico de música te chamando pelo pomposo título de ‘BB King da Amazônia’. Tens tocado para públicos de diversos estados do país, gravou clipe, lançou disco. Aos 72 anos, como encaras tudo isso?
Esse título de Rei da Guitarrada começou de uns dez anos para cá, quando eu voltei a fazer showem outros estados. Teve o jornalista Júlio Maria, do Estadão, que disse que adorava o meu trabalho e me chamou de BB King. Ele me explicou que o BB King toca muito, mas só toca dois estilos, o bluese o jazz... mas que eu tocava de tudo – e tudo muito bem. Eu falei para ele: rapaz, eu nem mereço tudo isso. Mas ele disse que eu merecia muito mais. Dia desses, eu fui fazer showem São Paulo, na turnê do ‘O Som da Amazônia’, meu novo disco, e o Miranda [crítico musical] foi assistir: “cê toca muito, véio! Cê toca demais esse negócio aí!”. Ele me apresentou a uma amiga dele, também guitarrista, que disse que nunca conseguiria tocar do meu jeito. Então, é legal ter esse reconhecimento. E eu sempre digo que o maior cachê, para mim, para o músico, é ver o povo dançando, o aplauso, é saber que tem quem gosta e admira o seu trabalho.
Falando em admiração e reconhecimento, tem uma nova geração de artistas que têm se aproximado dos mestres. Viraste não só referência para eles mas também parceiro. Como analisas esse diálogo entre as gerações?
Os artistas que se aproximam dos mestres, esses é que estão certos. Ele têm é que chegar perto da gente para pegar as dicas, não só de trabalho, mas da vida, do mercado. Fico muito satisfeito com a Aíla e a Roberta [Carvalho], que estiveram comigo nesse novo disco, esse trabalho que me deu alegria, e ainda o Brunno [Regis], que fez o meu clipe. Eu gostei. Os [jovens artistas] que não querem saber, que acham que são os donos da “cocada preta” não vão muito longe. Sebastião Tapajós, Esdras, Pardal... esses caras tocam demais. Eles dizem que tiram o chapéu para mim, mas eu é que tiro o meu para eles. Eles merecem reconhecimento pelo valor, pelo talento que têm. Somos da velha guarda, mas temos muito chão pela frente. Eu vou demorar para partir. Já falei com o Grandelá de cima e Ele me disse que eu vou durar bastante, porque estou fazendo muito sucesso e ainda tem muita guitarra para tocar.